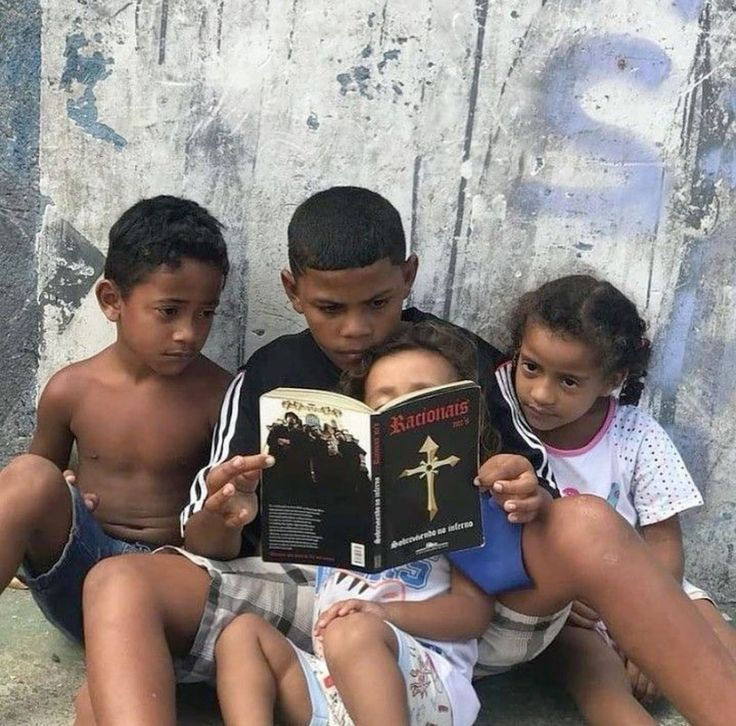- Pivete

- 19 de mai.
- 9 min de leitura
Atualizado: 20 de mai.

Belford Roxo não é cenário. É personagem. É a trama principal.
Quando MASKOTTE solta seu EP de estreia, Nota 10, não é apenas o nascimento de um novo nome no rap, no drill ou no grime brasileiro. É o grito de um território que, até ontem, só aparecia no noticiário pelo sangue na calçada, pelas enchentes crônicas, pelas chacinas invisibilizadas e pelas estatísticas da fome. Agora, entra pela batida.
Num papo reto e sem corte, o Pivete sentou pra trocar ideia com Maskotte — artista da Baixada que carrega no timbre, na letra e no olhar a urgência de quem veio pra dizer algo. Este texto é o resultado dessa troca: uma mistura de resenha, entrevista e crônica sobre uma cidade que transborda talento no mesmo pique que também o perde. É sobre potência criativa nascida da margem, sobre sobrevivência e arte, sobre quem insiste em criar mesmo quando o mundo tenta calar.

Maskotte é parte de uma geração que não só reivindica: toma. Se o espaço não é dado, a gente invade. Se o jogo da vida flui em torno do dinheiro, a gente vai pra rua financiar os próprios sonhos.
“Cara, então, o Maskotte, ele se cria, sabe? No começo era tipo um alter ego, mas com o tempo eu fui meio que me fundindo com ele. Hoje em dia, eu brinco dizendo que a gente é uma coisa só, tá ligado?” — conta em entrevista exclusiva à Menó.
MASKOTTE é cria de Belford Roxo, Baixada Fluminense — esse lugar onde o Estado chega tarde (quando chega), e onde o talento é medido pela cor da pele e pelo CEP.
“Nasci e fui criado em Bel. Acho que a única vez que morei fora de Belford Roxo foi na Prata, ali entre Belford Roxo e Nova Iguaçu, atravessando a linha. No mais, foi tudo Belford Roxo mesmo, tá ligado?"
Aqui, onde a vida é barata e a cultura é rica, fazer arte não é só expressão. É sobrevivência. E Nota 10 é o retrato cru dessa caminhada: seis faixas que mandam o papo reto, jogadas na pista pra ver quem capta a visão.
Um EP forjado no corre
Nota 10 nasceu no cansaço. Foi composto depois do expediente, com o corpo moído de quem passou o dia todo em cima das duas rodas, rasgando a cidade em busca do pão. Nas madrugadas insones e nos sábados em que ninguém vê, a criação seguia firme.
“Motoboy”, uma das faixas mais diretas do EP, é quase um áudio de zap que virou música. Não tem filtro: é sobre suar no trânsito, fugir do tempo, driblar a fome, fingir que tá tudo certo e, mesmo assim, gastar a onda porque os crias não perdem a postura nem nos momentos mais difíceis. É nesse cansaço real que a poesia de MASKOTTE se firma — não como decoração, mas como denúncia.
“A ‘Motoboy’ fala mais da minha correria do dia a dia, que é ser motoboy. Fala sobre a minha área, sobre as dificuldades que a gente enfrenta no meio disso tudo, tá ligado? Tanto como artista quanto no trampo mesmo, sacou?”
Nada no EP é solto. Cada faixa parece parte de um rito.
“Cara, o conceito da parada é mostrar esse meu lado — tanto artístico quanto pessoal, tá ligado? Porque a “Nota 10” em si fala mais desse meu lado artístico. Já “Motoboy” fala mais da minha correria do dia a dia, que é isso mesmo: motoboy. “Belford Roxo” fala sobre a minha área e as dificuldades que a gente passa no meio disso tudo, tá ligado? Tanto como artista quanto na correria em si, no trampo, e tudo mais.”
Em “Nota 10”, música que dá nome ao trabalho, MASKOTTE homenageia o pai — músico local. A capa do disco, aliás, é inspirada em uma arte feita por ele.
“E a capa do EP foi inspirada no som do meu pai. O significado de “Nota 10” é como se fosse a minha prova, tá ligado? E o meu professor, que seria o meu pai, com certeza me daria nota dez, de me ver fazendo essas paradas todas, seguindo o mesmo caminho que ele, tá ligado? Então é esse o conceito: como se fosse a minha prova e eu tivesse gabaritado, tirado nota dez, sacou?”
“Belford Roxo” é território. É memória coletiva. É a escola que marcou, o barro da rua, o vizinho que virou estatística, o hino da cidade, o amor e o ódio que se tem de onde se vem. A faixa traz sample de Baixada Cruel — o nome já diz tudo.
“Foi o Antônio (Antconstantino) que sugeriu o sample. Na hora que eu ouvi, eu sabia que era isso. É o som que resume tudo.”
Estética da quebrada: entre o mosh e o microfone
MASKOTTE cresceu ouvindo rock de banda local, colando em palco quando dava, pulando em roda punk e ouvindo as histórias de parentes sobre os bailes de corredor.
"Tipo, tem uma parceira minha, a Scarlet Wolf, que fazia uns shows. Ela cantava uma música e eu sempre subia no palco pra cantar junto. Eu já tinha esse flerte com o microfone, com essa parada, tá ligado? Só que eu nunca, de fato, tive uma banda. E também, pra ter uma banda, precisava de grana, né, pai? Bateria, guitarra… é foda. Mas eu sempre flertei muito com essa parada do palco, de estar ali, sentindo a energia, vibrando junto, tá ligado?"
Viveu o rock, o rap, o funk. Toda essa vivência virou matéria-prima de um estilo que se recusa a ser um só.
“Eu até brinco que sou tipo o Demônio da Tasmânia, tá ligado? Sou 220! E eu preciso de uma forma de extravasar isso. Porque, no dia a dia, na correria do trampo, às vezes a gente nem consegue. Então eu vou achar uns meios de soltar essa energia — a raiva, a alegria, tudo. É quase uma terapia, saca?”

Esse trânsito entre linguagens é também reflexo do que é ser cria da Baixada: você precisa ser mil versões de si mesmo pra conseguir existir num mundo que te quer moldado na hegemonia. Porque ser da Baixada é isso: é resistência criativa, é adaptação sem submissão. É construir identidade na encruzilhada, onde cada linguagem vira ferramenta de sobrevivência e afirmação.
“Você vai passando por ali como se fosse uma viagem, tá ligado? Vai adquirindo visão, tipo uma visão de agulha, bem precisa. Eu vejo minha carreira assim. Passei pelo funk, rock, conheci o grime, me aprofundei no raga, na cultura jamaicana... É tipo mergulhar em várias piscinas. Aí você pensa: ‘o que dá pra estudar aqui?’ Mistura tudo, faz uma receita e vê o que sai, tá ligado?”
E mesmo com toda essa potência, criatividade e coragem, Maskotte levou tempo para se reconhecer como artista.
“Eu não conseguia me enxergar como artista. Eu não olhava pra mim e me via assim, mesmo com todo mundo ao meu redor falando: “Mano, você tem um bagulho diferente, você tem uma estrela diferente, do seu jeito, na sua comunicação, na sua interação com as pessoas.” E eu ficava tipo: “Tá, tá bom... deixa isso passar, tá ligado? Mas com o tempo, principalmente ali por volta de 2013, 2015, 2016, fui sendo influenciado pelos meus parceiros, vivendo aquele momento. Foi uma fase em que o rap estava pulsando, mas o rock também — que é de onde eu venho, porque eu nasci no rock. Aquilo tudo foi me aproximando mais, tá ligado? Me conectando com a arte.“
Talvez isso se deva à escassez, aos olhares que constantemente negavam essa possibilidade e ao lugar social historicamente questionado que é imposto a milhares de pessoas negras — um lugar marcado por uma violência subjetiva, mas profundamente real, sustentada por uma estrutura racista e covarde.
“Não só com a arte em si, mas com outros artistas também. Gente que estava fazendo a parada de forma independente, colocando a cara pra fazer acontecer. E foi aí que comecei a me relacionar de verdade com a arte, com a música. Foi ali que a ficha começou a cair.”
É um processo árduo construir uma identidade artística quando a sociedade insiste em invisibilizar seus talentos e limitar seus horizontes. Ainda assim, Maskotte resistiu, criando a partir das frestas, transformando dor em linguagem e presença em afirmação.
“Tá ligado? Por mais que eu já tivesse uma bagagem de família, foi naquele momento que eu pensei: “Mano, acho que eu vou começar a fazer essa parada.” Tipo, antigamente eu sempre falava: “Não, é só brincadeirinha. Não sou MC, não sou músico, não sou artista.” Só que teve um dia em que eu olhei pra mim mesmo e falei: “Caralho, mano... eu sou artista. Eu tô fazendo arte, tô fazendo música. E foi isso. Foi nessa virada que o Maskotte se fundiu ao Marlon. E hoje em dia, tamo aí.
O som de MASKOTTE mistura grime, drill, rock, funk, R&B e a estética cortante do que se cria com pouco. Tudo isso com produção 100% da área: Taleko, Fugitive 99, Antconstantino, Clara Ribeiro, Wander Scheeffe e Diogo Queiroz.
“O coletivo é essencial, tá ligado? Eu levo a ideia meio crua, meio bruta… E a rapaziada chega junto pra lapidar. Tipo a Clara Ribeiro, o Wander, o Diogo. Cada um soma com a sua visão. Porque às vezes uma cabeça só não dá conta de tudo. Eu ajo muito no coletivo — e aprendo demais com isso.”

“BOMPO”: clipe, Barilândia e o jogo da vida
O single de pré-lançamento do EP foi “BOMPO”, e o videoclipe mergulha na estética do território. Gravado na Barilândia, lendário parque de diversão de Belford Roxo, o clipe mistura drill com visual de videogame e sample de Metal Slug X, clássico dos fliperamas.
“Mano… um bagulho que eu acho foda é o carinho que os moleques têm com cada detalhe. Na mixagem e masterização estavam o NMS e o Antônio. Eu colava, ouvia, dava uns toques. E via o cuidado com cada barulho, cada vocal, cada dobra… Tipo, às vezes eu nem percebia, mas eles mudavam um detalhe e o som batia diferente. Isso me dá vontade de estar sempre junto, produzindo, participando, porque é um carinho com a minha arte também.”
“BOMPO” é gíria, neologismo, código. É a forma de MASKOTTE existir: urgente, inventada, própria. O clipe tem direção de Diogo Queiroz e fotografia de Wander Scheeffer. É visual bonito — mas com verdade. E aqui, verdade é o que não falta.
“(O Clipe de ) Belford Roxo, especificamente, o Wander tinha falado pra mim: “Mano, você consegue deixar essa produção na minha mão?” Eu falei: “Mano, fica à vontade.” E ele foi lá e ficou literalmente à vontade, né? Pintou e bordou!”
Belford Roxo é resistência
Na reta final da entrevista, a pergunta vem: O que é a Baixada pra você?
MASKOTTE nem pensa:
“Cara, Belford Roxo, minha área, a Baixada Fluminense, significa resistência, tá ligado? Pelo tanto que eu já vi, o tanto que eu já vivi… Vários bagulhos que a gente chega no limite, mas ainda arruma força pra correr atrás das paradas. Desde coisas simples, tipo sair daqui pra curtir uma praia e passar perrengue, até lidar com enchente, atravessar com vara no meio do bagulho… A gente sempre resiste. Então, pra mim, é isso: resistência. E é isso — pé na porta, porque nós também vai dominar tudo, tá ligado?”
Nota 10 não é vitrine. É espelho. Não é produto pro mercado — é documento de memória. MASKOTTE escreve sua história com beat e verso, mas também com saudade, raiva, amor, dor e fé.
“Não é só sobre fazer música e se sentir bem, suave… Mas quando você vem da periferia, quando você é preto e tá fazendo qualquer trampo com cultura negra, isso tem peso.
É importante inspirar a rapaziada também. É trocar de roupa, de vocabulário, de postura, dependendo do ambiente. É saber circular da viela pro palco, da escola pública para reunião formal, da gíria pro discurso articulado — sem perder a essência.
Eu penso muito nisso, inclusive nos mais novos que ouvem minhas músicas. Até palavrão eu evito, pra deixar o bagulho mais leve. Porque eu falo muito, tá ligado?”
É um som que vem da margem, mas não pede licença. Porque, como o próprio artista diz:
“Nós também é cultura. Nós também é potência. E quem não entendeu ainda… vai ter que engolir.”

Quem inspira quem também é cria
Tem muito disso, né? De você ser influência pra outras pessoas... Mas e as suas influências? Quais são?
"Do rock ali, a influência no meu método é inegável. Mas os pilares mesmo vêm do hip-hop. Eu escuto muito Tyler, escuto muito Kendrick, tá ligado? Bateu muito nas minhas caixas. Da música eletrônica, eu curto muito o General, que faz uma parada mais de jungle, massive original, tá ligado? No grime, tem o Guedes, o Messi... essa rapaziada mais agressiva, com presença, com imposição na voz, sabe?"
Boa! Agora vamos filtrar: artistas da Baixada Fluminense?
"Da Baixada... primeiro, meu pai — não tem como negar, tá ligado? Curto muito a galera do Rappa também. E meus amigos — não posso deixar passar — a KBrum, o Antconstantino, tá ligado? E tem uma rapaziada vindo forte aí também: Ana, a Clara Ribeiro... Essa galera que tá chegando e quebrando tudo. E o mais louco é que a maioria dos meus parceiros são minhas maiores inspirações. A gente tá ali, vivendo o dia a dia junto, trocando ideia, criando junto... É o tipo de coisa que me deixa feliz de estar por perto, tá ligado?"
Próximos passos…
“Mano, então... o próximo passo é o lançamento. Eu já estava — aliás, ainda tô — pensando nisso. Não sei se isso pode mudar daqui pra frente ou não, mas a ideia é fazer um trampo, tá ligado? Com algumas referências, uma parada mais bem embolada ali no drum and bass. Pode ser que outras influências entrem também, pra complementar, mas quero ter cuidado pra não exagerar, pra manter a essência, tá ligado?”
E o desejo de incluir mais verdades a partir de outras perspectivas.
“Essa ideia já tá comigo faz um tempinho. Quero fazer uma parada com mais colaborações também, até porque o Nota 10 não teve, né? A meta mesmo é fazer o EP rodar, bater de verdade, conseguir circular por alguns cantos do Brasil fazendo show, tá ligado? Divulgar a arte, ver a rapaziada cantando, sentindo o som. E aí é isso: um passo de cada vez, pra não tropeçar no corre, tá ligado? Uhum.”
Nota 10 é só o começo.
Mas o recado já foi dado:
“Mano, ouçam Nota 10, compartilhem e fica ligado aí que eu tô com uns projetinhos pra soltar também. Não posso parar, não — talvez ainda não esteja 100%, mas é isso. Acompanha nós aí, Leigo Records! E vamo pra cima!”