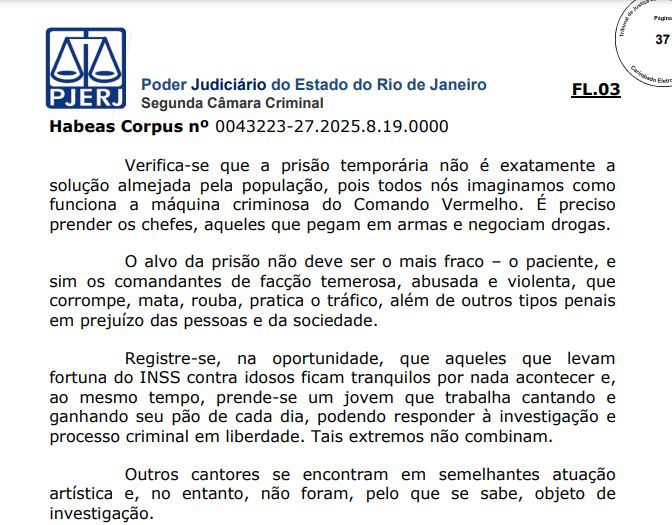No escuro, uma vela: o caminho de Castiçal em Loop Hero – Vol. 1
Tem artista que nasce no palco. Tem artista que nasce no corre. Castiçal nasceu no breu.
Mas não qualquer breu. Um breu cheio de som, cheio de mundo, cheio de encruzilhada. Tipo aqueles breus de quando falta luz na Baixada e, mesmo assim, alguém puxa o violão no quintal, outro improvisa uma rima no batente, outro acende vela e bota fé no dia seguinte. Foi desse caldo que veio Loop Hero Vol. 1 - EP — disco que Castiçal lançou no braço, no peito, na unha e na solitude.
“Cria de São João de Meriti, Agostinho Porto, Coelho da Rocha. Vivia ali aquele perrengue todo que você já imagina”, ele diz logo no início da nossa conversa.
E é nessas que a gente já se reconhece: Baixada com Baixada se entende no olhar, se escuta no sotaque, se fortalece na escuta.
O EP não é só um disco. É um rito. É o som de quem passou anos lapidando verso na cabine de uma usina de asfalto. Rimando no meio da madrugada. Sampleando barulho de chocalho, berimbau, delay e voz rouca. É um manifesto de um artista que entendeu que, se não existe estrutura, a gente constrói com o que tem. Se não tem luz, a gente vira vela.
“Esse EP foi um divisor de águas. Primeira vez que eu fiz tudo: compus, produzi, mixei, masterizei, lancei. Fiz na raça. Eu sou péssimo em rede social, nunca fui de ficar promovendo muito. Mas esse projeto precisava sair. Era um grito preso há muito tempo.”
E saiu. Saiu bonito. Saiu torto. Saiu real.
o som do impossível
As músicas do Loop Hero não se parecem entre si, mas todas têm uma coisa em comum: elas parecem contigo. Quando tu tá em paz. Quando tu tá puto. Quando tu tá perdido. Quando tu tá com saudade. Elas são espelho. E são quebra-cabeça.
“Eu sempre quis fazer um hip hop que não soasse tudo igual. Tentar outras formas de rimar. Tipo rimar a segunda palavra com a última, a terceira com a primeira. Quebrar tudo. Rimando sem boombap. Usando a batida como se fosse um instrumento vivo.”
É um som que exige escuta. Que não te leva pela mão. Ele te larga no mundo e diz: sente aí. E é justamente por isso que toca tanto. Porque não entrega tudo. Sugere. Provoca. Cutuca.
“Tudo que eu escrevo, eu quero que a pessoa sinta o que ela quiser sentir. Tem coisa que eu sei o que quero dizer, mas não digo. Deixo no ar. Pra não quebrar o encanto.”
E encanta mesmo. Porque não é só rima. É existência. É o cara que estudou escola esotérica, leu Krishnamurti, viveu casado por dez anos, se divorciou e encontrou na solitude não um vazio, mas um lugar de criação.
“Eu vivia a solidão. Depois ela virou solitude. Comecei a me sentir em paz comigo mesmo. E isso virou música. Eu não conseguia compor do lado da minha ex. Não por ela. Mas porque eu precisava de silêncio pra experimentar, pra errar, pra testar métrica. Cada um tem seu jeito."
Castiçal encontrou o dele.
beat, brisa e Baixada
É impossível escutar Castiçal e não pensar no território. Mas também é impossível limitar ele à uma extensão de terra.
Ele é a Baixada na base. Mas também é a montanha, a estrada, o silêncio do mato, a brisa da solitude. É berimbau com delay. É jazz sem partitura. É rap que não quer ser hype. É som de quem sobreviveu.
“A Baixada foi escola, mané. Me ensinou a perceber o outro, a me virar. Eu cresci vendo meu amigo ser traficante, o outro ladrão, o outro vender droga. E fui salvo pela arte. O violão me salvou.”
E mesmo quando saiu da Baixada, a Baixada não saiu dele. Ribeirão Preto, Itirapina, Santa Catarina — todos esses lugares ele carregou no bolso. Mas foi com os dois pés fincados no barro da vivência que ele construiu esse EP.
“Eu rimava dentro da cabine da usina. Porque em casa não dava tempo. Lavava roupa, fazia comida. Então, no trampo, quando dava um respiro, eu puxava o caderno. Comecei a fazer os beats ali também. Aprendi a tocar os loops no controlador MIDI, como se fosse guitarra. É tudo no feeling.”
O resultado é um som cru, quente, vivo. Tem raiva, tem fé, tem reflexão, tem festa.
castiçal é luz
“A ideia do nome é essa. Levar luz pras pessoas. Pode ser insight, pode ser poesia, pode ser dor. Mas é luz. É o que eu tento fazer com a música.”
Além do nome, tem referência ao som do Cassiano, à literatura esotérica, à vivência com psilocibina e meditação. Tem o sagrado e o profano, tudo junto. Um som que não se dobra ao algoritmo. Que não se resume em release. Que não cabe numa bio de Instagram.
“Minha intenção não é alcançar números. É tocar alguém. Se for uma pessoa só, já valeu.”
E valeu. Porque esse EP toca. Não como quem bate, mas como quem acorda.
Castiçal não é o herói da história. E nem quer ser. Ele é só mais um que teve que ir embora da sua área para sobreviver. E nesse caminho, acendeu uma vela. Depois outra. Depois outra.
O Loop Hero é isso. Um som que te olha no olho, mas sem te dizer o que fazer. Um disco que não quer te agradar, mas te provocar. Que não se prende a gênero, nem a fórmula. Um disco que vive no entre — entre a guitarra e a rima, entre o asfalto e a mata, entre o silêncio e o grito.
Castiçal e o próximo passo no abismo
Tem gente que rabisca. Tem gente que escreve. E tem gente que rasura o caderno inteiro, arranca a folha e começa do zero. Tabula Rasa é isso: o som do zero depois do fim. É Castiçal riscando tudo pra poder se ouvir de novo. E eu, pivete curioso, já me encostei nesse corre também.
“Já tenho um outro disco praticamente pronto. Chama Tabula Rasa. É outra pegada”, ele me disse no meio da entrevista, como quem solta uma bomba no meio da brisa.
E é isso mesmo: depois de Loop Hero, que já era uma guinada, Tabula Rasa é pulo sem rede, mergulho em silêncio, parede branca antes da próxima cor.
Não é só um novo EP. É um novo corpo. “São quatro faixas minhas, três de um parceiro da Pavuna, o m.u.t.a 93. E eu rimei tudo. É outro momento. Outra parada.”
Se Loop Hero era feito de fragmentos, colagens, loops soltos na madrugada, Tabula Rasa já nasce mais firme. Ainda tem a vibe mística, os samplers tortos, as rimas não lineares. Mas agora o chão treme diferente. Tem mais técnica, mais apuro, mais sangue na borda da faca. A solitude já não é mais abrigo. É laboratório.
E eu, que não sou bobo nem nada, já escutei esse novo som e posso garantir: o Castiçal tem munição pra mais uns três discos por aí.
“Esse processo todo de vivência da solitude... eu vivi as duas paradas. Primeiro a solidão. Depois virou autoconhecimento. Estudei escola esotérica, religião, budismo, hinduísmo. E larguei tudo. Fiquei comigo mesmo. E agora tô transpondo tudo isso em música.”
No meio do mato, em Gaspar (SC), longe da Baixada, longe do barulho, Castiçal se cercou de árvore, de tempo e de som. Riscou a lousa da vida e se escreveu de novo. E a música, mais uma vez, foi ferramenta, foi fé, foi fio.
“Comecei a estudar técnica, beat, flow, métrica, mix, sample. Tô aprendendo a colocar mais peso nos beats. Esse próximo disco tem outra direção. Mais maturidade. Mais nitidez. Tem rima, tem experimento, tem sopro de trompete, delay, reverb, mas tem soco também.”
E o nome? Tabula Rasa não veio à toa. É o conceito filosófico de quem decide renascer. Sem plano, sem script, só com o que tem dentro.
“Eu terminei o Loop Hero e me separei. E parece que foi junto. Uma coisa se lavando na outra. E agora o som novo vem assim: limpo. Mas não limpo de polido — limpo de verdade. Tipo quando tu limpa a casa toda e deita no chão pra respirar.”
Enquanto falava, Castiçal também dizia o que não queria dizer. Porque é isso: o som dele não se explica. E Tabula Rasa vem nessa toada. Um disco de silêncio cheio de som. Um disco que não tenta convencer ninguém — só convida.
“Tem uma faixa chamada Santa Armadura do Espírito. É o tipo de som que parece mantra, parece oração, mas também parece protesto. Não tem um formato certo. É o que for.”
Talvez Tabula Rasa seja isso: o que for. Porque nem sempre a arte precisa chegar com rótulo. Às vezes ela vem como vento, como sopro, como página em branco. E é na escuta que a gente escreve junto.
Castiçal não quer ser guru, nem profeta. Quer ser artista. Quer ser mais livre. Quer fazer som com quem sente, não com quem performa. E Tabula Rasa é essa entrega.
E eu, que ouvi todo o projeto, posso dizer: tem faísca. Tem risco. Tem verso. E tem fogo novo chegando.
Se no Loop Hero ele acendeu vela, agora é como se tivesse soprado o pavio. E deixado o escuro vir. Porque pra recomeçar, às vezes, a gente precisa se apagar por completo.
Então segura. Respira. E quando o disco sair, escuta com calma. Porque Tabula Rasa não é só som. É um novo começo.
E por fim, Castiçal me disse assim:
“Esse disco aí — Loop Hero Vol. 1 — é como se eu estivesse abrindo um novo caminho. Pra mim, como artista. Como homem. Como alguém que não quer mais esperar autorização pra ser o que já é.”
E se tem uma coisa que a gente aprende com a obra de Castiçal, é isso: não espera. Acende tua vela. Faz teu som. Escreve tua história. Porque enquanto a indústria vende luz artificial, tem gente como Castiçal iluminando seu próprio caminho.
Pra encerrar, Castiçal fez questão de agradecer quem fortaleceu na caminhada — gente que colou de verdade nos momentos-chave, seja no som, na vida ou na lida. O salve vai pra Rodrigo Valério, Renan Medeiros, Jorge Polo e Cristiana Cruz. Cada um, à sua maneira, foi vela acesa nesse processo.