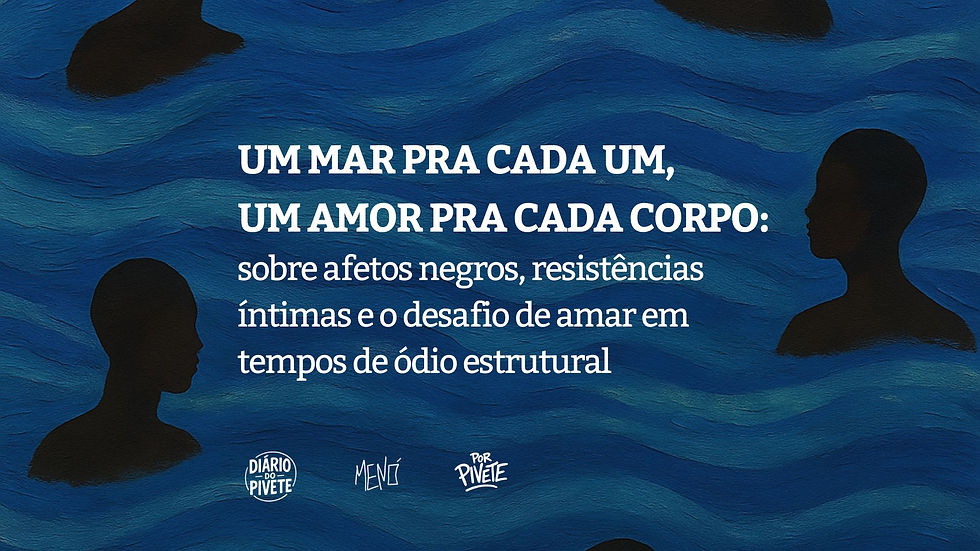- Pivete

- 12 de jun
- 7 min de leitura
Atualizado: 13 de jun

Belford Roxo pulsa em cada batida do álbum Queda Livre, de Caxtrinho.
É impossível ouvir e não se sentir atravessado pelas esquinas esburacadas, pelo barulho da feira, pelo som das obras e das Makitas que o artista fez questão de registrar no disco. Caxtrinho não compôs apenas um álbum; ele desenhou a cidade com acordes tortos, ruídos cotidianos e vozes de quem, como ele, insiste em ficar.
“Eu nasci em Belford Roxo, sou cria de Bel. Não tem como fugir, não dá, irmão”, ele me disse com a segurança de quem já entendeu que o amor pelo território é complexo, atravessado por dores e memórias. É um amor que exige luta, ressignificação e uma boa dose de teimosia para continuar dizendo: “é daqui que eu sou”.

Queda Livre é, antes de tudo, um exercício de liberdade. Como ele mesmo contou, o disco nasceu do improviso: “A gente tocava do zero, sem ler nada, sem saber porra nenhuma, e foi saindo”. Esse mergulho no imprevisível moldou o som que oscila entre a crônica, o manifesto e a provocação.
Em faixas como "Branca de Trança" e "Papagaio", Caxtrinho cutuca, sem medo, as tensões raciais e sociais que ele observa desde a infância. "Não dá pra fingir que a gente nunca viu uma branca de trança por aí. É um ataque? É. Mas é um ataque a todos os brancos em geral", ele me disse, com um sorriso no canto da boca e a certeza de quem está escrevendo sua história com a própria caneta.
O álbum carrega participações de nomes como Ana Frango Elétrico, Negro Leo e Vovô Bebê — parcerias que nasceram do acaso, da rua, da troca sincera entre artistas que se reconheceram. "O disco foi feito no amor, quem participou foi porque gostava da música e quis somar", ele relembra. Talvez essa seja a magia de Queda Livre: ele não foi milimetricamente calculado para agradar.
Ele aconteceu, no tempo da vida real, no improviso das amizades, na fé de que a simplicidade também é potência.
Caxtrinho enxerga Belford Roxo como um lugar de protagonismo. "A gente pode ser a primeira geração de várias coisas aqui. O tempo inteiro tentam dizer que a gente não tem, que a gente não é. Mas a gente é. E tem muito. Tem uma geração Belford Roxo vindo aí", ele avisa. E é difícil duvidar. As referências ao Centro Cultural Donana, as memórias da quadra da Inocentes de Belford Roxo, os encontros com a Orquestra Popular Barracão — tudo aponta para um território que, apesar dos estigmas, ferve de talento e invenção.
Queda Livre não é apenas sobre a queda. É sobre o voo. É sobre não aceitar que a felicidade esteja condicionada ao CEP.

"O acesso à felicidade não é negado pelo território, pelo contrário, é isso que complementa a gente", ele disse. E talvez seja exatamente isso que a música de Caxtrinho faz: nos lembra que é possível viver com intensidade mesmo quando o mundo parece querer nos derrubar.
Perguntei a ele o que é ser da Baixada Fluminense. Ele pensou, sorriu e respondeu com a calma de quem já entendeu seu papel: "Ser da Baixada é ocupar uma responsabilidade de propagar afeto. É ser um ativista Baixada Afetivo."
E é isso. No fim das contas, Queda Livre é um disco que te puxa para dentro da cidade, que te joga na pista esburacada, que te faz caminhar junto, tropeçando e seguindo, como quem sabe que cair também é uma forma de voar.
provocações e encontros
Mas Queda Livre é também o retrato de um método: improvisar, experimentar, criar no caos. "Tocar do zero, tocar sem amarras", disse Caxtrinho, como quem descreve não só o processo musical, mas a própria vida. Ele nunca quis, inicialmente, ser a voz do disco. "Eu queria só ser um compositor, deixar que outras pessoas cantassem minhas músicas." Mas o álbum puxou ele para o centro da cena, e ele aceitou o chamado.

As participações do disco aconteceram no fluxo, sem roteiro. "Chegava no estúdio, a pessoa ouvia o som e gravava. Não tinha linha escrita pra ninguém."
Assim, nasceram encontros improváveis: shows pequenos, como aquele em São Paulo para apenas três pessoas — uma delas, Kiko Dinucci —, e outros em bares cariocas, que aproximaram nomes como Rodrigo Campos, Romulo Fróes e Ana Frango Elétrico. Foi no improviso que a rede se formou.
"Esse disco foi feito todinho no amor. Quem participou, participou porque gostava da música", ele disse. A força de Queda Livre está aí: ele nunca foi um projeto estrategicamente pensado.

Foi um disco que nasceu da urgência, da rua, das trocas honestas, da necessidade de registrar um tempo, um território e um sentimento.
Algumas músicas vieram carregadas de provocações. "Eu tava numa fase muito sem amor. Então eu criava personagens para falar o que talvez eu não falaria diretamente." Mas ele não se arrepende. "Se fosse hoje, talvez eu escreveria diferente. Mas essas músicas precisavam ser ditas." E elas foram ditas com a coragem de quem sabe que não está buscando agradar — está buscando ser verdadeiro.
O próprio título, Queda Livre, sintetiza esse processo: cair como quem se joga, como quem aposta no caminho sem garantia de onde vai dar. "É sobre tocar livre, viver livre, pensar livre", disse Caxtrinho.
A Geração Belford Roxo
Ser de Belford Roxo é ser atravessado por histórias que, muitas vezes, o Brasil prefere ignorar.

Quando pergunto sobre a cidade, Caxtrinho fala sem romantização: "Desde que sou criança, a mensagem que ouço sobre o lugar onde moro é negativa. Meus amigos sempre diziam que a vida só começa quando você sai daqui. E eu sinceramente não estou disposto a sair desse lugar."
Entre os bairros, becos e centros culturais, pulsa uma cena que Caxtrinho chama de "Geração Belford Roxo Artística". Uma geração que está construindo, do seu jeito, o futuro cultural da cidade. "Posso te contar de primeira uns 15 artistas daqui que fazem trabalhos sensacionais. Eu já ouso dizer que é uma geração mesmo", afirma com a segurança de quem vê o movimento acontecer todos os dias. Não é só música, é resistência, é presença.
Ele me contou sobre amigos que eram artistas e que, por falta de oportunidades, tiveram que assumir outras profissões. Mas o olhar de Caxtrinho é certeiro: "Mesmo assim, continuam artistas. Eles não deixaram de ser."
É esse tipo de visão que transforma Belford Roxo num território vivo, onde a arte acontece na esquina, na feira, na obra — e também no improviso.
Os espaços de fortalecimento da cena, como o Centro Cultural Donana, aparecem como faróis nesse caminho. "É um espaço que dá uma força gigantesca pra quem quer acessar o público daqui. E o público mais difícil de alcançar é justamente o próprio Belforroxense", ele analisa. Talvez porque por muito tempo foi ensinado à população que as melhores coisas estão do lado de fora.
Talvez porque a educação ainda não alcançou tudo o que pode, como ele mesmo observa com lucidez.
Caxtrinho não é só um músico. É um agente de memória. "A vontade de falar de Bel, de propagar o nome de Bel numa perspectiva positiva, é uma luta. Temos que disputar o nosso lugar no meio de um Estado que tem Copacabana, Madureira, Cabo Frio... Como a gente compete com isso? Com identidade. Com música. Com registros."
E é assim que ele faz: registrando. Trocando. Conectando. Ele entende que estar na Baixada é também carregar um dever: "É ser propagador de afeto. É ocupar uma responsabilidade política na história desse país."

Essa consciência atravessa o trabalho de Caxtrinho, que sabe que ser cria da Baixada é muito mais do que um CEP. É resistir. É criar. É transformar o desdém em poesia. É improvisar na vida como improvisa no palco — com coragem, com ginga, e com amor.
Queda Livre não é só o nome de um álbum. É um convite a pular — e, no meio da queda, aprender que a gente já estava voando faz tempo.
“QUEDA LIVRE” foi realizado através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Governo Federal e está disponível em todas as plataformas de música digital.
Ficha técnica:
CAXTRINHO - QUEDA LIVRE (QTV067, 2024)
1 - Cria de Bel (Caxtrinho)
2 - Branca de Trança (Xuxuvevo/Caxtrinho)
3 - Papagaio (Caxtrinho)
4 - Brankkkos feat. Negro Leo (Caxtrinho)
5 - Desastre na Pista (Pedro Oleare/Caxtrinho)
6 - Queda Livre (Kau/Caxtrinho)
7 - Vó Jura (Caxtrinho)
8 - Samba Errado (Romulo Fróes/Caxtrinho)
9 - Merecedores feat. Tori e Bruno Schiavo (Kau)
10 - Rolé na B2 (Caxtrinho)
Caxtrinho - voz, violão, samples (7, 10), coro (2)
Eduardo Manso - guitarra (1, 3, 4, 6, 7, 9, 10), sampler (2, 5, 7, 9, 10), Rhodes (1, 4), sintetizador (1, 10), escaleta (3), harmônio (6)
João Lourenço - baixo
Phill Fernandes - bateria
Vovô Bebê - guitarra (1, 3, 4, 5, 7, 8), flauta (6)
Participações:
Ana Frango Elétrico - coro (2), piano (9), voz (9)
Bruno Schiavo - voz (9)
Kau - cavaquinho (1, 7, 8), percussão (4, 5), cuíca (4)
Marcos Campello - guitarra (2), trompete (9)
Negro Leo - voz (3, 4)
Pablo Carvalho - percussão (1, 2, 7, 9)
Paulinho Bicolor - cuíca (1, 4, 10)
Renato Godoy - sintetizadores (4)
Thomas Harres - percussão (3, 6, 10)
Thomás Jagoda - Rhodes (3, 5)
Tori - coro (2), voz (9)
Xuxuvevo - coro (2), voz (5)
Produzido por Eduardo Manso e Vovô Bebê
Gravado por Renato Godoy, Vovô Bebê e Eduardo Manso nos estúdios Rockit! 304 e Primatas.
Mixado e masterizado por Renato Godoy no Grajahu
Programação visual/Design Lucas Pires
Fotografia da obra: Pedro Agilson
Fotos: Rafael Meliga
Texto do encarte: Thaís Regina
Assessoria de Imprensa: Build Up Media
Gerente de Recursos Incentivados: Bz Soluções Criativas
Produção geral: Mariana Mansur, Bruna Lamego e Bernardo Oliveira
Realização: Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal
Siga Caxtrinho:
Siga QTV: